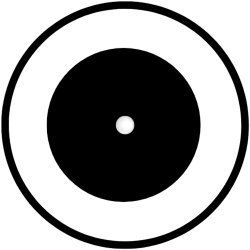Sally Rooney
Trechos
Não planejara voltar a Dublin, no Natal, mas Frank, meu pai, fazia um tratamento contra a leucemia. Minha mãe morrera de complicações do meu parto, e Frank não se casou, por isso, legalmente, ele era a única família que eu tinha. Conforme expliquei no e-email de boas-festas aos meus novos colegas de faculdade, em Boston, ele também estava morrendo.
Frank era viciado em remédios. Na minha infância, muitas vezes fiquei entregue aos amigos dele, que não me davam nenhuma atenção ou me davam em exagero, quando eu me retraía e encolhia feito um porco-espinho. Morávamos na região das Midlands, e quando me mudei para Dublin, por conta da universidade, Frank gostava de me ligar e falava da minha falecida mãe, que, segundo ele, não era “nenhuma santa”. Depois me perguntava se eu podia lhe emprestar um dinheiro. No segundo ano da faculdade, nossas economias acabaram e a família da minha mãe procurou alguém com quem eu pudesse morar até o fim dos exames.
A irmã mais velha de Nathan era casado com um tio meu, e foi por isso que acabei indo para a casa dele. Eu tinha dezenove anos. Ele, trinta e quatro, e morava sozinho num belo apartamento de dois quartos e uma cozinha com uma ilha de tampo de granito. Nessa época, ele trabalhava numa empresa que criava um software comportamental, algo a ver com emoções e receptividade dos consumidores. Disse-me que precisava fazer as pessoas sentir: fazer com que elas comprassem coisas viria mais tarde nesse processo. A empresa fora comprada pela Google, e todos agora recebiam salários surreais e trabalhavam num prédio em que os banheiros tinham secadores de mão caríssimos.
Nathan ficou animado com a ideia de eu ir morar com ele, e não achou isso nem um pouco estranho. Ele se cuidava, era limpo, mas não muito rígido, e cozinhava bem. Começamos a interessar pela vida um do outro. Eu tomava partido quando surgiam disputas entre os grupos no seu trabalho, e ele comprava coisas que eu tinha admirado nas vitrines. A previsão era de eu ficar até o fim dos exames, no verão, mas acabei ficando lá por quase três anos. Meus colegas o adoravam e não entendiam por que ele gastava tanto dinheiro comigo. Eu acho que sabia, mas são conseguia explicar. Os colegas do Nathan pensavam que havia um arranjo sórdido, pois quando ele saía, ouvia-se comentários sobre mim.
***
Desde que Frank fora diagnosticado oito semanas antes, eu passava meu tempo livre acumulando um conhecimento enciclopédico sobre leucemia linfocítica crônica. Não havia quase nada do assunto que eu não soubesse. Fui para além dos textos feitos para pacientes, chegando aos textos médicos, fóruns online de oncologistas e estudos científicos especializados recentes. Não era na ilusão de que isso me fizesse uma boa filha, nem de estivesse preocupada com Frank. Era parte da minha natureza absorver grandes cargas de informação durante os períodos de ansiedade, como se eu pudesse superá-la com o domínio intelectual. E foi assim que percebi o quanto era improvável que Frank sobrevivesse. Ele nunca teria me contado.
À tarde, antes da visita no hospital, Nathan me levou às compras de Natal. Eu vestia um casaco abotoado até o pescoço e usava um chapéu, o que me dava um aspecto misterioso por trás das vitrines. Meu namorado mais recente, que eu conhecera na universidade, em Boston, me chamara de frígida, mas que isso não era no sentido sexual. Sexualmente, sou muito carinhosa e generosa, disse aos meus amigos. A frigidez é apenas com as outras coisas.
Eles riram, mas de quê? A piada era minha, eu não podia perguntar.
A proximidade física do Nathan tinha um efeito sedativo sobre mim, e enquanto continuávamos de loja em loja, o tempo deslizava por nós como um patinador do gelo. Nunca visitara um doente de câncer. A mãe do Nathan fizera um tratamento de câncer de mama nos anos de 1990, mas eu era muito nova para lembrar disso. Agora ela estava bem e jogava golfe. Sempre que eu a via, ela me dizia que eu era a menina dos olhos do filho, exatamente nessas palavras. Fixara-se nessa frase, provavelmente por não haver nenhuma conotação maldosa. Poderia ser igualmente aplicada se eu fosse namorada do Nathan ou filha dele. Penso que poderia seguramente me situar no espectro namorada/filha, mas, certa vez e por acaso, ouvira o Nathan referir-se a mim como sobrinha dele, o que enxerguei com ressentimento , como um grau de distanciamento.
Fomos almoçar na rua Suffolk e colocamos as sacolas luxuosas de presentes debaixo da mesa. Ele me deixou pedir um espumante e o prato mais caro que havia.
Você choraria se eu morresse?, perguntei-lhe.
Não consigo ouvir uma palavra do que está dizendo. Mastigue a comida.
Engoli obediente. A princípio, ele ficou me observando, depois desviou o olhar.
Seria uma perda importante para você se eu morresse?, perguntei.
Sim, a mais importante que eu posso imaginar.
Ninguém mais ia chorar.
Haveria muita gente, disse ele. Você não tem colegas?
Agora prestava atenção em mim, por isso levei à boca mais um pedaço do bife e o engoli antes de continuar.
Você fala em ficar abalado, disse eu. Eu quero dizer sentir a perda.
E aquele seu ex-namorado que eu odeio?
O Dennis? Na verdade, ele até gostaria que eu morresse.
Ok, isso fica para outra conversa, disse Nathan.
Estou falando de luto absoluto. A maioria de que tem 24 anos deixaria um monte de gente chorando, é disso que estou falando. No meu caso, você é o único.
Deu a impressão de estar considerando isso enquanto eu brigava com o bife.
Não gosto dessas conversas em que me diz para imaginar a sua morte.
Por que não?
Ficaria feliz se eu morresse?
Só quero saber se você gosta de mim, disse-lhe.
Ele mexeu a salada em volta do prato com os talheres. Usava-os como um verdadeiro adulto, sem me me olhar de canto para ver se eu estava admirando sua técnica. Eu sempre olhava-o de canto.
Lembra da véspera de ano novo há dois anos?, perguntei.
Não.
Não faz mal. A época das festas é um tempo muito romântico.
Ele riu. Eu era boa em fazê-lo rir quando ele não queria. Coma aí sua comida, Sukie, disse ele.
Pode me deixar no hospital às seis?, perguntei.
Nathan então olhou para mim como eu sabia que ele olharia. Éramos previsíveis um para o outro, duas metades do mesmo cérebro. Da janela do restaurante, via-se nevar, e, sob as luzes alaranjadas da rua, os flocos molhados de neve pareciam sinais de pontuação.
Claro, disse ele. Quer que eu entre com você?
Não. Ele vai se ressentir com a sua presença.
Não estava dizendo isso por causa dele. Mas tudo bem.
Durante os últimos anos, sob o domínio de uma forte dependência de opioides, o estado mental do Frank tinha erraticamente oscilado, de um lado para outro, daquilo que se pode chamar de coerência. Às vezes, ao telefone, mostrava-se como era antes: reclamando das multas de estacionamento, ou chamando o Nathan de nomes sarcásticos como o “Sr. Salário”. Os dois se odiavam, e eu mediava esse ódio de um jeito que me fazia sentir brilhantemente feminina. Outras vezes, o Frank era substituído por outro homem, inexpressivo e, de certo modo, inocente, que repetia palavras incoerentemente, deixando entre elas longos silêncios, que eu tinha de preencher. Preferia o primeiro Frank, que, pelo menos, tinha senso de humor.
Antes de a leucemia ser diagnosticada, eu estava com a ideia de apresentar o Frank como um “pai abusivo” quando o tema surgisse nas festas do campus. Agora, sinto remorsos em relação a isso. Ele era imprevisível, mas não é que eu me encolhesse aterrorizada diante dele, e as suas tentativas de manipulação, ainda que fortes, nunca surtiam efeito. Eu não era vulnerável em relação a elas. Emocionalmente, me enxergava como uma pequena bola, dura e lisa. Ele não conseguia me agarrar. Eu simplesmente rolava para longe.
Num telefonema, Nathan sugeriu que rolar era minha estratégia de defesa. Eram onze da noite em Boston quando eu liguei, quatro da manhã em Dublin, mas o Nathan me atendia sempre.
Eu deslizo para longe de você?, perguntei.
Não. Acho que eu não faço a devida pressão.
Ah, não sei. Está na cama?
Agora? Claro. E você, onde está?
***
No hospital, havia uma porta giratória e um cheiro de desinfetante. As luzes gritavam, refletidas no linóleo, e as pessoas conversavam e sorriam, como se estivessem no saguão de um teatro ou de uma universidade, e não num prédio para pessoas doentes, morrendo. Estão tentando mostrar-se corajosas, pensei. Ou, ao fim de um tempo, a vida simplesmente recomeça. Segui os letreiros para cima e perguntei às enfermeiras onde era o quarto do Frank Doherty. Você deve ser a filha dele, disse a enfermeira loira. Sukie, não é? O meu nome é Amanda. Venha comigo.
Do lado de fora do quarto do Frank, Amanda ajudou-me a amarrar em volta da cintura um avental de plástico e a prender atrás das orelhas uma máscara cirúrgica. Explicou-me que isso era pelo Frank e não por mim. Sua imunidade estava vulnerável, não a minha. Desinfetei as mãos, esfregando-as com uma solução de álcool, fria, adstringente, e depois Amanda abriu a porta. Aqui está a sua filha, disse ela. Um homem pequeno, sentado na cama, os pés com ataduras. Não tinha cabelo e o crânio era redondo como uma bola de bilhar cor-de-rosa. A boca parecia dolorida. Oi, disse eu. Olá!
A princípio, não sei se ele me reconheceu, embora ao lhe dizer o meu nome, ele o tenha repetido várias vezes. Sentei-me. Perguntei-lhe se os irmãos e as irmãs dele tinham vindo vê-lo; parecia não se lembrar. Mexia os polegares para a frente e para trás compulsivamente, primeiro para um lado, depois para outro. Aparentemente, isso prendia a sua atenção que eu não tinha certeza se ele estava me ouvindo. Boston é bonita, disse eu. Muito fria nessa época do ano. O Charles estava congelando quando eu vim. Eu tinha a impressão de estar apresentando um programa de rádio sobre viagens para uma audiência desinteressada. Os polegares dele iam para trás e para frente. Frank? Ele balbuciou, e eu pensei: bem, até os gatos reconhecem o próprio nome.
Como se sente?, perguntei.
Ele não respondeu. Havia uma televisão pequena fixada na parede, no alto.
Assiste a muita televisão durante o dia?, perguntei.
Achei que não ia responder, e inesperadamente disse: As notícias.
Assiste as notícias? Não houve resposta.
Você parece sua mãe, disse Frank.
Olhei para ele espantada. Senti que o meu corpo começava a ficar frio, ou talvez quente.
Alguma coisa aconteceu com a temperatura do meu corpo que não me agradava.
O que você quer dizer?
Ah, você sabe bem que tipo de pessoa você é.
Como assim?
Você tem tudo sob controle, disse Frank. Tem sangue frio. Vamos ver se vai ficar fria quando for deixada sozinha, hem? Deve ser muito fria, nessa hora.
Frank parecia dirigir essas considerações ao cateter venoso, na pele do braço esquerdo. Enquanto falada, mexia nele com uma mórbida falta de propósito. Ouvi a minha própria voz ficando cada vez mais vacilante, como numa má atuação de um coral.
Por que me deixariam sozinha?, perguntei.
Ele vai embora e vai se casar.
Estava claro que o Frank não sabia quem eu era. Ao perceber isso, relaxei um pouco e limpei meus olhos por baixo da máscara. Eu estava chorando um pouco. Podíamos perfeitamente ser dois desconhecidos conversando se ia nevar ou não.
Talvez, eu me case com ele, disse eu.
Ao ouvir isso, o Frank riu, uma reação fora de qualquer contexto evidente, mas que, de qualquer modo, foi gratificante para mim. Eu adorava ser recompensada com risos.
Não espere por isso. Ele vai arrumar uma que seja nova.
Mais nova do que eu?
Bem, você está ficando velha, não está?
Eu ri. Frank lançou um sorriso indulgente para o tubo intravenoso.
Mas você é uma menina decente, disse ele. Podem falar o que quiserem.
Com essa enigmática trégua, a nossa conversa acabou. Tentei continuar a falar com ele, mas tinha a impressão de estar cansado demais para responder, ou aborrecido demais.
Fiquei lá uma hora, apesar do tempo de visita ser de duas horas. Quando lhe disse que eu ia embora, o Frank pareceu não entender. Saí do quarto, fechei a porta devagar e tirei a máscara e o avental de plástico, finalmente. Pressionei o dispenser do álcool em gel até ficar com as mãos ensopadas. Estava gelado e ardia. Esfreguei as mãos até secarem, depois saí do hospital. Chovia, mas não liguei para o Nathan. Fui a pé, como tinha dito que faria, com o meu chapéu enfiado até tapar as orelhas, e com as mãos nos bolsos.
Ao chegar perto da rua Tara, reparei uma pequena multidão junto à ponte e nos lados da pista. As caras das pessoas pareciam cor-de-rosa no escuro, algumas seguravam guarda-chuvas, enquanto acima delas, o prédio do Liberty Hall brilhava como um satélite. Caía uma névoa úmida e estranha, e um barco de resgate descia o rio com as luzes acesas.
No começo, a multidão parecia comportada, e me perguntei se acontecia algum espetáculo festivo, mas depois vi para onde todos estavam olhando: havia alguma coisa boiando no rio. Eu conseguia ver a borda lisa do tecido. Tinha o tamanho de um corpo humano. Ali, já não havia mais nada de animado ou de festivo. O barco aproximou-se com a sirene de luz alaranjada girando, em silêncio. Não sabia se eu devia ir embora. Pensei que provavelmente não gostaria de ver um corpo humano morto sendo retirado do rio Liffey por um barco de resgate. Mas fiquei ali parada. Estava ao lado de um jovem casal asiático, uma mulher bonita, num elegante casaco preto, e um homem que falava ao celular. Tive a impressão de ser gente boa, que os dois tinham sido arrastados para todo esse drama não por motivos sórdidas, mas por compaixão. Deixei de me sentir tão mal por estar ali depois de vê-los.
Um homem do barco mergulhou, na água, uma vara com um gancho, sondando em volta daquilo que boiava. Depois começou a içá-lo. Ficamos em silêncio; mesmo o homem ao celular ficou quieto. No meio do silêncio, o tecido foi retirado, içado com o gancho, vazio. Por um instante, houve confusão: será que haviam tirado as roupas do cadáver? Depois, tudo se esclareceu. O tecido era o objeto. Era um saco de dormir, que flutuava na superfície do rio. O homem voltou a falar ao celular, e a mulher do casaco começou a lhe fazer gestos sobre alguma coisa, como: não esqueça de perguntar que horas. Tudo voltou ao normal, rapidamente.
O barco de regaste afastou-se, e eu permaneci com os cotovelos apoiados na ponte, o meu sistema de formação de sangue funcionando como de costume, as minhas células amadurecendo e morrendo no ritmo normal. Nada no interior do meu corpo tentando me matar. Claro que a morte era a coisa mais comum que pode acontecer e, no fundo, eu sabia disso. Mesmo assim, tinha ficado ali à espera de ver o corpo no rio, ignorando os corpos vivos à minha volta, como se a morte fosse mais um milagre do que a própria vida. Eu tinha o sangue frio. Estava muito frio para pensar em tudo.
Quando cheguei em casa, o casaco estava ensopado da chuva. No espelho da entrada, o chapéu parecia um rato do banhado sujo, capaz de despertar a qualquer momento. Tirei-o juntamente com o casaco. Sukie?, disse Nathan lá de dentro. Arrumei meu cabelo para que ficasse com um penteado aceitável. Como foi?, perguntou ele. Segui para dentro. Nathan estava sentado no sofá, com o controle da televisão na mão direita. Está encharcada, disse ele. Por que não me ligou?
Eu não disse nada.
Foi ruim?, perguntou Nathan.
Assenti com a cabeça. Meu rosto estava gelado, queimava de frio, vermelho como um semáforo. Fui para o meu quarto, tirei as roupas molhadas e as pendurei para secar. Estavam pesadas e mantinham a forma do meu corpo nos vincos. Escovei o cabelo e vesti meu roupão bordado para me sentir limpa e serena. É o que os seres humanos fazem da vidas, pensei. Respirei fundo, disciplinadamente, e voltei para a sala de estar.
Nathan estava assistindo televisão, mas apertou o botão de mudo para tirar o som assim que eu apareci. Sentei-me no sofá, ao lado dele, e fechei os olhos, enquanto ele estendia a mão para me afagar o cabelo. Costumávamos ver filmes assim, e ele acariciava meu cabelo exatamente desse jeito, distraidamente. Eu achava que a distração dele me fazia sentir bem. De certo modo, queria viver dentro dela, como se ela fosse um espaço onde o Nathan nunca ia perceber que eu tinha entrado lá. Pensei em dizer: Não quero voltar para Boston. Quero viver aqui com você. Mas o que eu disse foi: Pode colocar o som de volta se você está vendo isso, eu não ligo.
Ele apertou o botão e o som voltou, uma música tensa de instrumentos de corda e uma voz feminina ofegante. Um crime, pensei. Mas, quando abri os olhos, era uma cena de sexo. Ela estava de quatro e o personagem masculino atrás dela.
Eu gosto assim, disse eu. Por trás, quero dizer. Desse jeito, posso fingir que é você.
Nathan tossiu, tirou a mão do meu cabelo. Mas um segundo depois ele disse: Geralmente, eu simplesmente fecho os olhos. A cena de sexo agora tinha acabado. Os personagens estavam numa sala de tribunal. Senti a boca a salivar.
Podemos trepar?, perguntei. É sério.
Ah, eu sabia que você ia falar isso.
Isso me faria sentir muito melhor.
Meu Deus, disse Nathan.
Em seguida, ficamos em silêncio. A conversa aguardava nosso retorno. Eu fiquei tranquila, podia perceber. O Nathan tocou no meu tornozelo, e eu comecei a sentir um interesse passageiro pelo enredo do episódio que passava na televisão.
Não é uma boa ideia, disse Nathan.
Por que não? Você está apaixonado por mim, não está?
Vergonhosamente.
É só um favorzinho, disse eu.
Não. Pagar o seu voo para cá foi um favorzinho. Não vamos discutir isso. Não é uma boa ideia.
Naquela noite, na cama, perguntei-lhe: Quando vamos saber se isso foi uma má ideia ou não? Já devíamos saber disso? Porque, nesse momento, parece boa.
Não, agora é cedo demais, disse ele. Acho que quando você voltar para Boston, teremos uma perspectiva melhor.
Eu não vou voltar para Boston, eu não disse. Essas células podem parecer bem normais, mas não são.
https://www.irishtimes.com/culture/books/mr-salary-a-short-story-by-sally-rooney-1.3016223